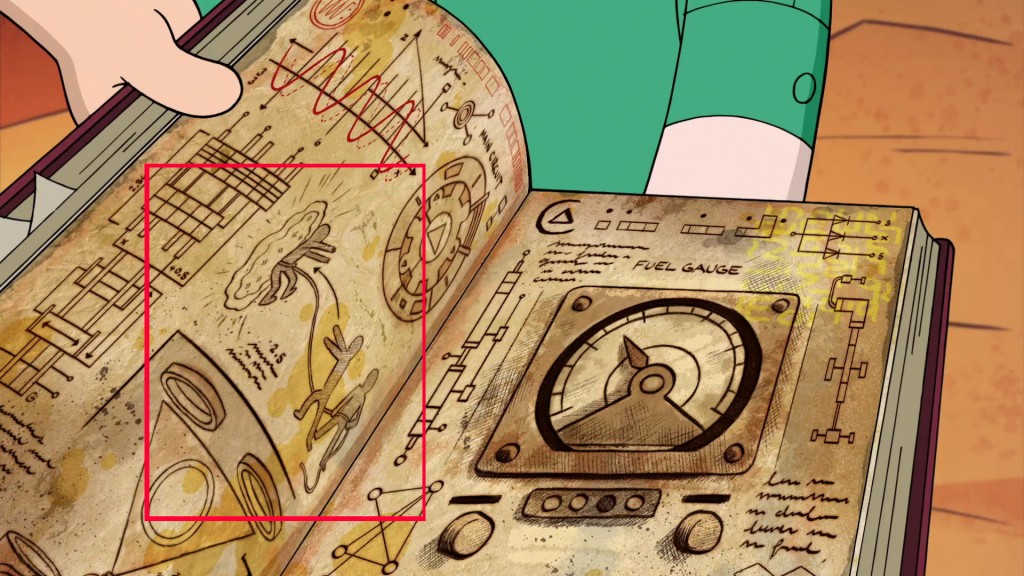
O homem é um animal simbólico e símbolos são ferramentas poderosas, cujo
alcance e significado vai muito além do que podemos perceber conscientemente
Jung descreveu os símbolos de duas formas complementares. De um lado, eles
são transformadores de energia psíquica, que convertem uma forma de energia
em outra e se encarregam de canalizá-las em determinadas direções – é por
isso, entre outras coisas, que a maior parte dos métodos tântricos para
despertar a kundalini consistem na visualização de símbolos específicos (os
yantras), cuja finalidade é ativar a energia adormecida na base da coluna e
fazê-la ascender em direção aos chakras superiores. Na verdade, quase todas
as formas de meditação, orientais e ocidentais, envolvem a concentração
sobre algum tipo de símbolo.
Por outro lado, Jung também fala dos símbolos como funções transcendentes,
intermediários entre a consciência e o inconsciente. São os símbolos que se
encarregam de traduzir os conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo em
uma forma – geralmente visual – que possa ser assimilada pela consciência,
contribuindo assim para expandir seus limites. Na verdade, as duas
descrições retratam o mesmo processo sob ângulos ligeiramente diferentes. Ao
exercer seu papel de intermediário, o símbolo toma a energia do arquétipo e
a conduz até a consciência. É essa energia que alimenta a consciência e
produz o alargamento de suas fronteiras.
Dessa forma, o símbolo tem necessariamente uma dupla face, como o deus
romano Janus (do qual derivou, aliás, o nome do mês de Janeiro). Uma das
faces do símbolo está voltada em direção à consciência e representa a parte
do símbolo que pode ser integralmente conhecida e descrita pela nossa mente
consciente. A outra face, por sua vez, mergulha nas profundezas abissais do
inconsciente, que não podemos perceber diretamente e à qual nosso único
acesso é, precisamente, o símbolo. De onde o aforisma de Jung,
freqüentemente repetido, de que o símbolo é a melhor expressão possível para
uma realidade que não podemos compreender totalmente.
Isso é verdade para todos os símbolos, dos grandes emblemas religiosos, como
a cruz cristã ou a estrela de Davi judaica, às logomarcas cujo poder de
atração é explorado empiricamente pelos publicitários, que conhecem seus
efeitos sobre a consciência do público, mas desconhecem as causas desse
efeito. Essa mesma compreensão pragmática é encontrada na magia, onde os
símbolos gráficos carregados de energia psíquica são chamados de sigilos. No
início do século, o ocultista inglês Austin Osman Spare desenvolveu uma
série de técnicas sofisticadas para criar e carregar (energizar) os sigilos,
e essas técnicas de sigilização se tornaram o principal fundamento do que
atualmente é conhecido como magia do caos.
Na verdade, porém, qualquer símbolo gráfico pode ser encarado como um sigilo
na medida em que, como vimos acima, todos os símbolos carregam em si um
sentido arquetípico, que continua operando e exercendo seus efeitos mesmo
quando esse sentido se perdeu ou nunca foi conhecido.
É esse o caso, por exemplo, do A dentro do círculo (conhecido em inglês como
circle-A), que substituiu a bandeira negra como o principal símbolo do
anarquismo. Ninguém sabe muito bem quando ou como foi que ele surgiu. Em 25
de novembro de 1956, a Alliance Ouvrière Anarchiste, de Bruxelas, adotou-o
como emblema e sua difusão mundial deve-se ao movimento anarco-punk da
década de 70, mas o primeiro registro de uso do circle-A pelos anarquistas
foi durante a Guerra Civil Espanhola. De resto, não se faz a menor idéia de
sua origem e seu(s) criador(es) continuam inteiramente ignorados.
O significado primário do circle-A é óbvio: trata-se pura e simplesmente da
inicial da palavra Anarquismo (ou Anarquia), emoldurado pelo círculo para
dar destaque. Mas esse sentido primário está muito longe de esgotar o
significado do símbolo que, se não lançasse raízes nas camadas mais
profundas da nossa psique, jamais teria o apelo popular que adquiriu. E
quando começamos a inquirir sobre esses sentidos mais profundos do circle-A,
uma surpresa nos aguarda. Trata-se de um símbolo de nada menos do que Deus.
Mais especificamente, é o símbolo de Deus empregado por São João no
Apocalipse I, 8:
“Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que
há de vir, o Todo-Poderoso.”
A partir desse versículo, os primeiros cristãos desenvolveram uma série de
monogramas inspirados no alfa e no ômega e usados até a Idade Média. É
desses monogramas que o circle-A deriva, com a substituição das letras
gregas por seus equivalentes latinos: o A e o O, este último convertido no
círculo. Já houve quem percebesse que o círculo representa a letra O mas,
sem atinar para suas origens apocalípticas, deduziram que o circle-A queria
dizer que Anarquia é Ordem.
À primeira vista, é paradoxal que o anarquismo adote uma imagem de
conotações religiosas como sua insígnia mais conhecida, especialmente se
levarmos em conta que a grande maioria das correntes anarquistas do século
XIX em diante se identifica explicitamente com o ateísmo e o
anticlericalismo (“enforquem o último rei nas tripas do último padre”). Esse
paradoxo desaparece, no entanto, se nos lembrarmos que, como já foi indicado
aqui mesmo, muito antes de Proudhon e Bakunin, e conforme reconhecido pelo
próprio Kropotkin, a genealogia do sentimento anarquista remonta a
movimentos religiosos medievais que, por sua vez, são uma derivação
clandestina das heresias gnósticas, com seu forte elemento antinomialista.
No limite, o ancestral desse sentimento encontra-se nas epístolas de São
Paulo, em quem gnósticos como Valentino reconheciam a fonte de seus
ensinamentos esotéricos:
“Pois, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, suscitadas pela
lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora
fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos,
para servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra.” (Rm VII,
5-6)
Outro autor cristão em quem os gnósticos identificavam um de seus
precursores era ninguém menos que São João Evangelista, o mesmo que criou a
imagem do Alfa- Ômega no Apocalipse e cujo evangelho é considerado o mais
evangélico dos quatro. Possivelmente, ao mesmo tempo em que o Alpha-Ômega
foi adotado pela iconografia cristã, passou também para os gnósticos, daí
para os movimentos proto-anarquistas da Idade Média e posteriores, onde
ficou em estado latente, à espera de ser ressuscitado pelos anarquistas do
século XX.
A história, no entanto, não se encerra aqui. Mencionamos acima que o
gnosticismo alegava se basear nos ensinamentos esotéricos dos apóstolos,
aqueles que, segundo os próprios evangelhos, Cristo transmitia apenas a seus
discípulos mais próximos e que, conseqüentemente, não fazem parte da
doutrina aberta ao público, que se tornou a base do catolicismo:
“Perguntaram-lhe então seus discípulos o que significava essa parábola.
Respondeu ele: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus; mas aos
outros se fala por parábolas; para que vendo, não vejam, e ouvindo, não
entendam.” (Lc VIII. 9-10)
Assim, se os gnósticos adotaram o símbolo do Alfa-Ômega, é de se supor que
ele tivesse um sentido mais profundo do que o que lhe é geralmente atribuído
Na interpretação exotérica tradicional, como o alfa e o ômega são,
respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego, entende-se
que Deus é o princípio e o fim. O que mais pode ser lido nesse símbolo?
O conceito básico do gnosticismo, como quem acompanha o Franco-Atirador já
está careca de saber, é que a nossa realidade é um mundo ilusório, que
encobre uma realidade mais ampla, a qual os gnósticos chamavam de pleroma (
plenitude” em grego). O pleroma é o conjunto de um número infinito de
potenciais, das quais o nosso mundo é uma redução imposta artificialmente.
Tanto a letra A como o Alfa grego são uma representação gráfica desse
processo de redução, cuja idéia está implícita na própria forma da letra,
cujo esquema é o de um triângulo aberto. A base do triângulo simboliza o
potencial infinito do pleroma; seu ápice expressa a concentração desse
potencial em um único ponto, e é desse ponto que o nosso universo se origina
A concepção gnóstica da criação está de acordo com o que foi descoberto pela
mecânica quântica na primeira metade do século XX. A nossa realidade, ensina
a física, origina-se a partir de um estado potencial, denominado
superposição coerente, que é a soma de todas as realidades possíveis e,
dessa forma, equivale ao pleroma gnóstico. Essas realidades potenciais são
descritas matematicamente como ondas de probabilidade entrelaçadas. Antes de
serem observados (ou medidos), todos os objetos existem em estado de
superposição coerente. Quando observamos alguma coisa, esses estados
potenciais se reduzem a um único, que se torna o objeto percebido. O
processo é conhecido entre os físicos como colapso da função de onda e, ao
que tudo indica, ele ocorre no momento em que nosso cérebro interpreta os
dados percebidos pelo sistema sensorial. Assim, em última análise, a
realidade é criada em nossa cabeça.
Pois bem, através dos escritos de Zózimo de Panápolis, um gnóstico e
alquimista do sec. III d.C., sabemos que os gnósticos chamavam a cabeça de
elemento-Ômega e, de fato, o ômega maiúsculo sugere uma cabeça humana
estilizada:
Portanto, inscrever um alfa (ou A) dentro de um ômega (ou O) é uma indicação
simbólica de que, embora não tenhamos consciência disso, somos nós que
criamos a realidade que percebemos e que nos é imposta como se fosse
independente. Adquirir consciência desse fato é alcançar o grau supremo de
liberdade, que nos eleva acima das leis deste mundo. Tornamo-nos livres ao
percebermos que, como os verdadeiros criadores do mundo, não devemos
submissão a nenhuma autoridade mundana, e essa liberdade é a raiz do
antinomialismo gnóstico, que se perpetua até hoje no símbolo anarquista do
circle-A.
(Uma confirmação adicional da análise do circle-A acima vem do trabalho de
Patricia Shaffer com a essência das letras angélicas. Pesquisando a
linguagem enoquiana, que John Dee e Edward Kelley teriam recebido dos anjos
no século XVI, Shaffer concluiu que cada letra – não apenas do alfabeto
enoquiano mas, de fato, de todas as línguas alfabéticas – possui um
significado arquetípico que exprime a essência dessa letra. Os significados
que ela descobriu para as letras A e O foram, respectivamente:
A – Raiz do Tempo: começar, começo, novo, renovar, de novo, então, quando.
O – Raiz do Ser/Vir-a-Ser: ser, tornar-se, existência.
Dentro desse referencial, então, as letras A e O que formam o emblema
anarquista significariam o princípio da existência, isto é, a criação.)
Resposta aos comentários de Hammadi
Publicado originalmente em 15-01-2004
Salve, Hammadi. Gostaria de aproveitar os teus comentários pra tecer algumas
considerações. Espero que você não se importe.
a entropia nos mostra os limites de nosso universo. A entropia zero e a
velocidade da luz são os limites ( mesmo que se esteja acima desta
velocidade, ela ainda continua um limite). Bom, o fato é que nosso universo
é limitado.
Esse é um ponto que eu venho frisando há alguns anos nas listas de discussão
sobre ciência e ficção científica que eu assino. O universo com que a nossa
ciência lida é o universo da nossa experiência. Em última análise, a ciência
é uma sistematização das informações captadas pelos nossos sentidos – mesmo
quando auxiliados por instrumentos como o telescópio, o microscópio, etc.,
ela lida com o que podemos perceber direta ou indiretamente sobre o universo
e sua tarefa é estruturar esses dados. As leis do universo são, portanto, as
leis da nossa percepção do universo. A mecânica quântica e a teoria da
relatividade tocam as fronteiras do universo da nossa experiência e,
utilizando a matemática, nos mostram um vislumbre do que se encontra para lá
dessas fronteiras: o contínuo espaço-tempo da teoria da relatividade, que
não podemos perceber diretamente, e o estado de superposição coerente da
mecânica quântica, que também não pode ser observado, mas apenas inferido. A
minha impressão de leigo, na verdade, é que tanto o contínuo quanto a
superposição coerente são duas descrições diferentes, feitas de dois
pontos-de-vista diversos, da mesma realidade fundamental. E se a gente
comparar, as propriedades que a física atribui tanto ao contínuo quanto à
superposição coerente são as mesmas que os gnósticos atribuíam ao pleroma,
isto é, à verdadeira realidade: em ambos os casos, eles se encontram além do
espaço e do tempo convencionais (e “convencional” aqui é pra ser entendido
ao pé da letra: nosso espaço e nosso tempo são construídos por convenções
perceptivas), contêm em si todas as potencialidades simultaneamente e, neles
todos os opostos se reconciliam e coexistem. Nesse ponto, então, o tal
Hermínio Martins tem toda a razão: o impulso que secretamente move a ciência
é de natureza gnóstica (não é por nada que o grego gnosis e o latim scientia
são sinônimos) e, ao escarafunchar os alicerces do nosso universo, a ciência
acaba resvalando no que se encontra para além dele. Mais sobre o que
exatamente significa esse “para além” no próximo parágrafo.
A questão gnóstica aqui é que esse universo, esta natureza é na realidade
uma contra-natureza. Esta contra-natureza, por mais sutil e aperfeiçoada que
seja, não se tornará uma Nova Natureza. São dois universos, duas naturezas,
duas órdens de vida! Essa é a base de todo o ensinamento gnóstico.
Sim e não. Aqui, a gente precisa tomar um certo cuidado pra não tomar as
metáforas gnósticas muito ao pé-da-letra e acabar resvalando num dualismo
irredutível. Os padres da Igreja caíram nessa armadilha e uma das principais
acusações que faziam aos gnósticos era justamente a de serem dualistas. Isso
pode até ser verdade para algumas seitas mas, se formos ler os ensinamentos
da gnose valentiniana, vamos constatar que o dualismo é apenas aparente. Ao
contrário do Reino dos Céus com que os fundamentalistas cristãos sonham até
hoje (ao arrepio do próprio Cristo, que insistia que o Reino dos Céus já
estava entre nós), o pleroma gnóstico não é um outro mundo no sentido
literal, situado em uma espécie de universo paralelo fora e acima deste. Ele
é a natureza essencial deste mundo mesmo, quando percebido sem os filtros
cognitivos que distorcem a nossa percepção da realidade (e que, aproveitando
o termo usado pelo próprio Valentino, eu denomino de sístase). São esses
filtros que criam o dualismo. Primeiro, eles geram uma separação entre
sujeito e objeto. Esse sujeito separado do objeto é o demiurgo gnóstico,
Ialdabaoth (isto é, o ego), e o objeto separado do sujeito é a matéria-prima
com a qual ele constrói o nosso universo da percepção. Para isso, ele quebra
o contínuo em um espaço e um tempo percebidos como entidades separadas,
atribuindo um fluxo linear ilusório ao tempo, e utilizando-os como
coordenadas para estruturar a matéria. Com isso, o conjunto de
possibilidades infinitas da superposição coerente se afunila e limita-se a
uma única possibilidade, que é o que percebemos como “real”.
Todo esse processo é descrito de forma clara, ainda que alegórica, no
Pistis-Sophia: a queda de Sophia representa a cisão inicial entre sujeito e
objeto, a matéria escura que ela produz com seus sentimentos de tristeza é o
objeto isolado do sujeito e o demiurgo que nasce de Sophia é o sujeito
isolado do objeto e que, tão logo nasce, começa a organizar a matéria escura
produzindo os arcontes (a sístase) para auxiliá-lo nessa tarefa. Mas todo
esse drama cósmico acontece apenas no interior da consciência e não afeta em
nada a verdadeira realidade, que continua sendo o pleroma. Vista desse
ângulo, a gnose nada mais é que um corte epistemológico, que desconstrói os
filtros cognitivos e permite à consciência enxergar o pleroma que, de fato,
sempre esteve ali. (É claro que, aqui, as limitações da linguagem atrapalham
porque pressupõem que a consciência observa o pleroma, como se fossem duas
coisas separadas quando, na verdade, são uma e a mesma coisa.) Então, sim,
você poderia dizer que a contra-natureza, aperfeiçoada pela gnose (no
sentido literal de aperfeiçoar, isto é, tornar completo), torna-se uma nova
natureza, ou melhor, a verdadeira natureza que estava encoberta pela nossa
percepção distorcida. Nas palavras do Buda, o samsara é o nirvana e o
nirvana é o samsara.
De novo, isso vem indicado na mitologia gnóstica pela figura de Achamoth, o
aspecto inferior de Sophia, isto é, a forma que Sophia tomou depois de sua
queda, quando se tornou inconsciente, dentro da prisão da matéria. E aqui,
outra vez, a linguagem atrapalha, dando a entender que a Sophia inconsciente
e a prisão da matéria são duas coisas distintas. A Sophia inconsciente de si
mesma é a prisão da matéria e a prisão da matéria é a Sophia inconsciente de
si mesma. Achamoth é a forma pela qual os valentinianos personificavam isso
e os atributos que eles conferem a Achamoth são os mesmos, sem tirar nem por
que a mitologia atribui às deusas-mãe da natureza, como a Gaia que faz as
delícias dos new-agers. Assim, a Mãe-Natureza não é outra senão Sophia à
espera de sua libertação, e é essa libertação que os alquimistas buscavam,
mas daqui a pouco eu falo mais da alquimia.
O que acontece é que o Adão que somos nós é um “portador da centelha divina”
um “portador da Imagem “. Ora, mas esta entidade ( nós: a personalidade )
está totalmente identificada com o “eu”.
Em linhas gerais, eu concordo. Mas acho que o processo é um pouco mais
complexo que isso. Da mesma forma que, com a queda de Sophia, a nossa
percepção do absoluto se afunilou até restringir-se ao fragmento da
realidade que é o nosso universo, a percepção que temos de nós mesmos também
se restringiu ao nosso ego. Mas, assim como o pleroma continua intocado pela
queda, a nossa natureza essencial também não se altera. O correlato
microcósmico” do dualismo artificial criado pela queda, entre este mundo e
um outro que no fundo são um só, é uma espécie de dissociação da consciência
Uma parte dela se identifica com o ego e percebe o resto como se fosse uma
entidade separada, autônoma. Essa outra parte, que é a consciência do todo,
corresponde ao Eu Superior dos teósofos (bleargh), mas também ao Self ou
Si-mesmo da psicologia junguiana, que Jung mesmo identifica com a centelha
gnóstica. Na teologia de São Paulo, ela é chamada de “o Cristo em mim”, numa
linguagem próxima à do hinduísmo, que refere-se ao Atma como “o Deus em mim”
Na magia cerimonial, essa consciência superior é denominada de Santo Anjo
Guardião, usualmente referido pela abreviatura HGA (Holy Guardian Angel),
que eu traduzo pelo acrônimo SAGA (de Santo Anjo Guardião), aproveitando a
coincidência de que, na linguagem enoquiana, a palavra SAGA significa “o
todo, a totalidade”. Inicialmente, o SAGA aparece ao adepto sob a forma de
uma criatura independente (daí sua associação com o anjo da guarda dos
católicos) mas, à medida que a comunicação entre as diferentes partes da
consciência vai se aprofundando, ele acaba sendo integrado, durante a etapa
que Crowley denominou de travessia do abismo. Os gnósticos descrevem essa
integração como sendo a união do ser terrestre com seu gêmeo celeste e às
vezes o simbolizam como um hierógamo entre o complexo psicofísico
(masculino) e o espírito (feminino).
As características cósmicas dessa “egoidade” estão manifestadas pelos eões e
arcontes que subjulgam a humanidade.
Aqui, inteiramente de acordo. Como já mencionei num post anterior e tornei a
repetir aqui mesmo, alguns parágrafos acima, na minha opinião, os arcontes
são uma personificação das categorias apriorísticas de conhecimento e
percepção que definem o universo que percebemos. Os éons, porém, são outra
coisa. Nas escrituras gnósticas, os éons são definidos como os pares de
arquétipos que constituem o pleroma. Eles são anteriores à queda e, de fato,
Sophia é usualmente definida como sendo uma das partes do último par de éons
que se separou de sua contraparte ao cair na matéria. Em alguns textos, o
Cristo cósmico (que os gnósticos diferenciavam cuidadosamente do Jesus
histórico) é esse éon que, após a queda, tomou para si a tarefa de resgatar
Sophia e reconduzi-la a seu lugar na hierarquia dos éons. E pode ser
relevante notar que o termo grego áìon, do qual “éon” é a forma
aportuguesada, designava originalmente o substrato vital e se associava à
sexualidade, o que permite relacionar a libertação de Sophia ao despertar da
kundalini.
Para que a centelha se liberte é preciso um processo onde o Portador se
auto-entrega e todo o “eu” ( e portanto toda sua contra-natureza) é
dissolvido. É a endura dos gnósticos cátaros, a morte do eu para o
renascimento da alma.
Sobre essa morte do eu, descrita universalmente em todas as correntes de
misticismo, também é preciso ter cautela para não se tomar a coisa ao pé da
letra e interpretar o processo como uma espécie de autodestruição, porque
não é isso. O eu não é propriamente aniquilado, mas absorvido em uma
estrutura mais vasta, que o contém e integra. O termo mais próximo para
descrever isso seria a Aufheben hegeliana. Literalmente, essa palavra
significa “superação”, mas trata-se de uma superação especial, na qual
aquilo que é superado se conserva, porém transformado. Para perceber isso,
basta olhar para as pessoas que supostamente teriam atingido a gnose ou
iluminação, como o Buda, Cristo ou mesmo São Paulo. Nenhum deles deixou de
ser o que era para se tornar uma abstração impessoal. Eles conservaram suas
personalidades e idiossincrasias, com a diferença de que sua consciência não
estava mais identificada a essa personalidade. Seu eu não foi reduzido a
cinzas, mas o centro de sua psique não era mais o ego, e sim o Si-mesmo mais
amplo, a consciência da totalidade.
Esta é uma parte da Alquimia: a da criação de uma Nova alma e um novo
corpo-alma com elementos de uma totalmente outra natureza.
É bom não esquecer, contudo, que a matéria-prima dos alquimistas era este
corpo, esta alma e os elementos desta natureza. Não se trata de jogar fora
esses elementos para substituí-los por alguma outra coisa. Essa outra coisa
que eles buscavam – nominalmente, a pedra filosofal – estava contida na
matéria tal como existe e, para libertá-la, era necessário apenas despojar a
matéria de suas impurezas. Um lugar-comum constantemente repetido pelos
alquimistas era o de que a prima materia encontra-se por toda parte, está no
céu, na terra, nas águas e dentro de nós mesmos, e não escondida, mas à
vista de todos, que passam por ela sem se dar conta, desprezam-na e não se
apercebem de sua importância. Nas palavras de Paul Éluard – que era um poeta
surrealista, e os surrealistas estavam engajados nessa mesma busca: “Existem
outros mundos, mas estão neste.”
Extraído do Franco Atirador
